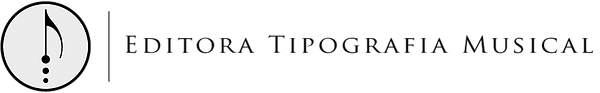quarta-feira, 22 de março de 2017
sábado, 18 de março de 2017
quinta-feira, 16 de março de 2017
CIGAM Tiradentes
Temos o prazer de divulgar e indicar o início das atividades do Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical (CIGAM) na cidade de Tiradentes, MG.
Ian Guest, húngaro radicado no Brasil desde 1957, é um verdadeiro protagonista dos bastidores do cenário musical brasileiro, que dispensa maiores apresentações.
Então, vamos ao CIGAM Tiradentes!
Ian Guest, húngaro radicado no Brasil desde 1957, é um verdadeiro protagonista dos bastidores do cenário musical brasileiro, que dispensa maiores apresentações.
Então, vamos ao CIGAM Tiradentes!


[Clique nas imagens para ampliá-las]
domingo, 12 de março de 2017
Charlie "Yardbird" Parker — August 29, 1920 – March 12, 1955
O
enorme sim de Charlie Parker
por Mário Alves Coutinho
Como pôde o aparente perseguido deixar à mostra
[...] toda sua grandeza humana de um perseguidor do impossível?
Davi Arrigucci Jr., em O escorpião encalacrado
Como o rock, hoje, o jazz já despertou (e continua a
despertar) muitas paixões. Não por acaso, esses dois gêneros musicais tiveram a
mesma origem: o rhythm and blues, no sul dos Estados Unidos, na comunidade
negra, produto da “combinação de escalas africanas com harmonias europeias”
(Eric Hobsbawm, História Social do Jazz,
1990). Transformaram-se, no devido
tempo (depois da Primeira Guerra Mundial, no caso do jazz; depois da Segunda,
no caso do rock), em linguagens musicais mundiais (conjuntos de jazz e bandas
de rock passaram a existir no mundo inteiro, aculturando-se em praticamente
todos os países do Ocidente). Não é estranho a esse desenvolvimento o fato de os
Estados Unidos terem se transformado num império (econômico e cultural): jazz e
rock passaram a fazer parte de um idioma mundial, sua língua franca, aquela
através do qual as várias partes desse império dialogam entre si e consigo
mesmas.
No início do século passado, coincidindo exatamente
com o momento em que os Estados Unidos passaram a ser a maior potência
econômica do mundo, parecia que esta língua franca seria o cinema, outra arte
eminentemente americana (apesar de inventada pelos Irmãos Lumière, franceses).
Mudo, baseando suas possibilidades expressivas apenas nas imagens em movimento,
luzes e sombras, o cinema parecia ser essa linguagem universal, compreendida
por todos intuitivamente, independente de qualquer idioma. Foi quando à imagem
acrescentou-se o som, a fala, e o diálogo, em 1927. A partir daí, a magia
se quebrou, o cinema deixou de ser “ingênuo”, sofisticou-se, ficou moderno e
perdeu essa característica de linguagem universal. Embora o primeiro filme
sonoro tenha se chamado O cantor de jazz
(mas o personagem-título era interpretado por um ator branco, judeu, com a
cara pintada de preto), o cinema americano, curiosamente, quase nunca deu a
importância a essa música: na verdade, reprimiu-a. Hobsbawm comenta: “O
principal órgão internacional de disseminação do american way of life, Hollywood, sempre deu muito pouca importância
ao jazz, por se tratar de um gosto de minoria na América”. A partir da década
de 1980 isso muda relativamente, e vários filmes sobre jazz foram realizados,
inclusive um sobre Charlie Parker, dirigido por Clint Eastwood. Pouco
interessado na biografia de Parker, o filme concentra-se no essencial: sua
música. A trilha sonora de Bird,
retrabalhada com os recursos dos estúdios de som modernos, é magnífica.
Não por acaso, é a partir da década de 1930 que o jazz
passa a seduzir quase todo o Ocidente, intelectuais sofisticados e público
comum, na mesma intensidade. Qual a razão para esse fato? Será que se trata,
mais uma vez, do fascínio que o vital, forte e inocente sempre teve – é só se
lembrar da importância que a construção teórica do “bom selvagem” teve para a
filosofia e a ciência política moderna – para o Ocidente sofisticado e
desvitalizado? (“A busca da contrapartida pura, inocente, e natural para a
sociedade ocidental burguesa é tão antiga quanto a própria sociedade,
refletindo a permanente consciência que ela tem de suas falhas fundamentais”, analisa
Eric Hobsbawm). Será que os lugares
díspares onde o jazz foi tocado, inicialmente, ou de onde se originou (bordéis,
igrejas, saloons e cantos de trabalho) têm a ver com sua extraordinária
vitalidade? Ou, então, a explicação seria econômica? “...sempre que uma
solicitação anticomercial se torna grande o suficiente (dentro das condições do
capitalismo), ela passa automaticamente a ser comercial e a ser fornecida pela
indústria com a maior intensidade possível, até ser diluída em papinha”
(Hobsbawm).
Ou será que essa paixão pelo jazz se deve ao fato de,
neste gênero musical, na figura do executante estarem reunidas as imagens do
intérprete e do compositor? (Uma de suas características definidoras não é
exatamente a improvisação, “variações melódicas a partir de uma determinada
base harmônica”? – Hobsbawm). Será que o fato de ser, paradoxalmente, “a arte
do músico individual”, mas, ao mesmo tempo, “quase que exclusivamente um
exercício comunal” não determinou essa paixão?
Paixão esta que cobre todo o espectro ideológico: vai
desde o historiador marxista inglês, Eric J. Hobsbawm, passa pelo excepcional
poeta, também inglês, Philip Larkin (praticamente desconhecido no Brasil, um
autor conservador, assumidamente reacionário), e marca também a obra do
magistral contista e romancista argentino Julio Cortázar, defensor incansável
da utopia socialista e revolucionária.
Hobsbawm (1917) publicou um livro fundamental, História Social do Jazz, no qual este
gênero musical era analisado em todos seus aspectos: históricos, musicais,
econômicos, biográficos. Philip Larkin
(1922-1985) escreveu alguns dos melhores versos da pós-modernidade; em alguns
deles, o jazz e a música têm papel destacado. Num poema de 1954, por
exemplo, “Para Sidney Bechet”, ele
disse que “On me your voice falls as they say love should,/ Like an enormous
yes [...].” (Tradução literal: “em mim,
sua voz cai como dizem que o amor deveria/ como um enorme sim.”) Já em All What Jazz (Faber and Faber, London,
1985) ele recolheu todas as suas
resenhas sobre discos de jazz que havia escrito para um jornal, o Daily Telegraph, durante o período 1961-1971. Fica claro, desde o começo, os músicos
dos quais ele gosta e defende com determinação: Louis Armstrong, Sidney Bechet,
Duke Ellington (“poucas coisas na vida me deram mais satisfação do que ouvir
jazz”), jazzistas, pode-se dizer, clássicos.
Quando fala do bebop, e do músico com o qual tudo começou, Charlie Parker, o tom muda.
No início, a admiração parece ser enorme: “ouvindo Parker, temos a impressão de
um homem que não somente podia traduzir suas ideias em notas musicais a uma
velocidade sobre-humana, mas que era simultaneamente consciente de meia dúzia
de outras maneiras de resolver qualquer situação musical, ao mesmo tempo que
podia referir-se a todas elas, indo além delas”. Mas em textos posteriores, ele
afirma, por exemplo: “esta não era, numa palavra, música de homens felizes”. Ou
então, “esta é minha crítica básica ao modernismo, quer seja perpetrado por
Parker, Pound ou Picasso: não nos ajuda nem a ter prazer, nem a resistir”. Mais
adiante, “pior do que tudo, era a natureza atormentada, infeliz, febril, a
natureza tensa da música”. Numa determinada passagem, chega a fazer referência
“à impressão de alucinação mental que ele transmitia”.
Mas é quando fala de como o jazz nasceu, que sua
posição fica clara: “o negro não criou o ‘blues’ porque era naturalmente
melancólico. Ele o criou porque foi trapaceado, tiranizado e passou fome. Acabe
com isso, e o ‘blues’ pode acabar, também”. Philip Larkin quase que chega a
defender, no texto do qual foi extraída essa citação, a ideia de que o negro
deveria continuar a ser explorado; de outra maneira, o jazz que dava prazer a
ele, o pré-moderno, poderia se acabar. (Essa posição não pode ser creditada
somente ao poeta inglês. Um crítico de jazz dizia, em 1959: “Parker não teria
feito nunca sua valiosíssima contribuição para o jazz se tivesse sido protegido
dos reveses da vida”, citado em O
escorpião encalacrado, Davi Arrigucci
Jr., 1973). Ao mesmo tempo, Larkin como que decretava que o jazz era somente
felicidade, ritmo, encantamento; o sofrimento, melhor dizendo, a revolta, não
poderia transparecer. Em outras palavras, ele estava dizendo que o jazz é (ou
deveria ser) a arte do perseguido, música em resposta ao sofrimento, nunca algo
autônomo, que juntasse o prazer e a tragédia, como toda grande arte.
Julio Cortázar (1914-1984) é autor de ensaios bastante
característicos sobre jazz: em Valise de
Cronópio (Editora Perspectiva, 1974), ele escreveu, por exemplo, peças
admiráveis sobre Clifford Brown, Thelonious Monk e Louis Armstrong, em que o
sentido da trajetória existencial dos músicos e a música que eles constroem e
fazem é uma só e mesma coisa (“descrição de uma felicidade efêmera e difícil”:
ele, aqui, está falando de Clifford Brown. Na verdade, de todo o jazz). Para
Cortázar, ao contrário de Philip Larkin, o jazz que realmente contava, o de
Charlie Parker, por exemplo, era música do perseguidor, nunca do perseguido.
Negro, pobre, doente, viciado em drogas, discriminado racialmente, seria
facílimo dizer (e provar) que Charlie Parker (ou qualquer jazzista negro) era
um perseguido, vítima da sociedade. Numa novela que publicou em As armas secretas, com o título
emblemático de “O perseguidor”, Cortázar criou uma personagem, Johnny Carter,
no qual ele recria a música e a trajetória de Charlie Parker. Ali, Johnny
Carter, aliás Charlie Parker, quando faz sua música no saxofone alto, não é
nunca uma vítima, mas um caçador (na belíssima elaboração/construção metafórica
do autor, “... lebre que corre atrás dum tigre que dorme”).
Para Cortázar, o artista é ativo, e não passivo, e usa
sua imaginação para criar. Na verdade, ele emprega todas as suas faculdades
para perseguir o real e a sua expressão (tradução), isto é, para interpretar e
dar sentido ao mundo, um sentido que nunca está (ou é) dado uma vez por todas.
Ao se referir a Johnny Carter, o narrador da novela diz: “Johnny não é uma
vítima, não é um perseguido como toda gente pensa [...] Johnny persegue em vez
de ser perseguido [...] tudo que lhe está a acontecer na vida são azares de
caçador e não de animal acossado. Ninguém pode saber o que Johnny persegue...”
Metáfora particularmente feliz para falar de um
jazzista, a ideia da perseguição
concretiza o fundamental nesse tipo de música: correr atrás de uma ideia,
desenvolver um tema, improvisar, buscar a síntese entre o dionisíaco e o
apolíneo, entre o homem que sofre e aquele que expressa, numa linguagem
superior e sofisticada, esse mesmo sofrimento. Mas não somente isso: transforma
o artista em ser ativo, que dá sentido à sua vida, que trabalha, procura e faz;
concepção inversa do artista romântico, que apenas reage, e é somente
intuitivo.
Perseguido ou perseguidor? Influenciado pelas
circunstâncias históricas, sociais, econômicas ou raciais dentro das quais
nasceu, ou então, ao contrário, agente livre, construtor e definidor
independente da sua vida e obra? Produto do meio em que nasceu ou das suas
próprias escolhas, sonhos e lutas? Embora Larkin diga que “Parker não sucedeu
ninguém, como Armstrong sucedeu Oliver. Ele simplesmente apareceu”, isso não é
verdade: ele atuou dentro de uma linguagem musical, o jazz, com uma tradição já
estabelecida; e seu estilo foi influenciado, reconhecidamente, por Lester
Young, por exemplo. Produto, portanto,
do meio em que nasceu, mas não somente: dialeticamente, definiu, também, seu
caminho, reagiu a seu destino, dando um outro sentido a ele, e nesse ponto
Larkin tem razão, revolucionando a linguagem musical do jazz (algo que o poeta
inglês tem particular antipatia: “eu não tinha compreendido que o jazz tinha
evoluído de Lascaux até Jackson Pollock em cinquenta anos...”, All What Jazz).
Representante maior da humanidade, o artista, como
qualquer homem comum, não é somente produto do meio no qual vive: ele pode, e
geralmente consegue, propor os seus próprios termos, recriar todo o mundo em
determinados momentos, circunstâncias e espaços (o da sua obra,
principalmente). Cortázar diz tudo isso numa fala de seu personagem, Johnny
Carter (as letras inicias do nome do personagem, JC, são também as de Julio
Cortázar e Jesus Cristo, como lembrou Davi Arrigucci no seu livro sobre
Cortázar: é preciso não se esquecer, a propósito disso, das origens religiosas
do jazz, e a trajetória “crística” de Charlie Parker, aliás Johnny Carter,
morto aos 34 anos), em que sua música produz a divindade: “eu não sei se há
Deus, toco a minha música, faço o meu Deus” (“O perseguidor”). Ecos de Franz
Schubert, que morreu com 31 anos? (“Vivo e componho como um deus, como se, na
verdade, nada no mundo fosse possível”, Franz
Schubert’s Letters and other writings, 1974). Johnny Carter e Charlie Parker realizaram, com sua música, algo
que os deuses – que nós criamos à nossa imagem e semelhança, é bom lembrar –
sempre fizeram, e que cada um de nós tem a obrigação de pelo menos tentar, em
alguns momentos da vida: criar seu próprio universo, com suas próprias leis e
características, e não somente viver em um mundo estabelecido pelos
outros, no máximo reagindo a ele.
Não é por outro motivo que, depois de dizer que Johnny
Carter “é como um anjo entre os homens”, o narrador de “O perseguidor” se corrige: “Johnny é um homem entre
os anjos, uma realidade entre as irrealidades que somos todos nós”. Homem, sim,
mas com o atributo divino de criar um universo pessoal, com suas próprias
condições. Exatamente como afirma o narrador noutras passagens: “... em todos
eles tocava como [...] só um deus pode tocar um sax alto...”. Ou então, “a
grandeza humana e artística de Johnny está nesse querer, até a morte, o
impossível...” Dessa maneira, mais uma vez Charlie Parker, aliás, Johnny
Carter, conseguia evadir-se do perigo apontado por Philip Larkin: “Numa
sociedade humanista, a arte – e especialmente a arte moderna – assume grande
importância, e perder contato com ela é a mesma coisa que perder a fé numa
época religiosa”.
Perseguido
pelo racismo, pobreza e doença, mas perseguindo e construindo sua música, seus
temas, suas variações, além do sentido e significado da vida, Charlie Parker,
como diz o narrador em “O perseguidor”, era “dotado, como tantos músicos,
tantos jogadores de xadrez, e tantos poetas, com o dom de criar coisas
extraordinárias sem ter a mínima consciência [...] das dimensões da sua obra”.
Perseguido e perseguidor, Charlie Parker, para usar o poema de Larkin sobre
Bechet, construiu com sua obra um “enorme sim”, passando a ser uma das
afirmações máximas da necessidade sempre presente da tentativa: “nós que
imbatidos só ficamos/ porque em tentar perseveramos” (T. S. Eliot, “Quatro
Quartetos”, tradução de Ivan
Junqueira).
Assinar:
Postagens (Atom)